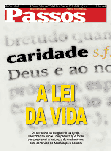Passos N.93, Maio 2008
DESTAQUE / CARIDADE
Não há caridade sem Deus
por Riccardo Piol
Da encíclica Deus caritas est aos discursos para as ONGs, o Magistério de Bento XVI sempre retorna à palavra que o mundo reduz apenas a “fazer o bem”. O presidente do Cor Unum explica a diferença
“Estou aqui, diante de vocês como uma testemunha: uma testemunha da dignidade do homem, um testemunho de esperança”. Estas são palavras que João Paulo II pronunciou na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em 5 de outubro de 1995: outros tempos, um outro mundo. Certamente, diferente daquele de Paulo VI, primeiro pontífice a falar no Palácio de Vidro, em 1965. E, de certo modo, também diferente do mundo atual, ao qual se dirige, hoje, Bento XVI. No entanto, falando com o Cardeal Paul Josef Cordes, percebe-se algo como um fio que une as visitas dos pontífices à ONU, um fio que sempre atravessa as transformações e as agitações da história restituindo a cada época a unicidade da experiência da Igreja e da sua presença em âmbito internacional.
Presidente do Pontifício Conselho Cor Unum, o Cardeal Cordes olha para uma instituição como a ONU e para o relacionamento que a Igreja tem com ela através de uma lente particular, a da caridade. Então, para falar da recente visita de Bento XVI a ONU, é inevitável partir da sua primeira encíclica. Inclusive, o Conselho Cor Unum, no final de fevereiro, dedicou a Deus caritas est a assembléia plenária na qual se encontram os diversos organismos caritativos de caráter internacional que fazem parte do ministério.
Cordes explica: “Escolhemos retomar o tema da encíclica, dois anos depois de sua publicação por dois motivos. Em primeiro lugar, pela sua importância: o anúncio de Deus como amor é o coração da predicação da Igreja. E assim deve ser nos nossos dias, em que a ausência de Deus parece gerar também a difusão de uma desorientação sobre o significado do amor. E, depois, queríamos entender melhor a reincidência da encíclica no trabalho dos organismos caritativos que são membros do Cor Unum”.
E o que perceberam?
Antes de mais nada, que a encíclica foi bem aceita e muito lida, inclusive muito além das expectativas, tendo sido retomada em diversos níveis: no âmbito pessoal, como instrumento concreto de reflexão nos escritórios e nas estruturas das organizações e, também, em iniciativas institucionais como seminários e conferências.
E, segundo o senhor, a que se deve esse “sucesso”?
De um lado, por ser o primeiro documento em absoluto sobre a Igreja como sujeito de atividade caritativa. E, depois, porque não discute o que devemos fazer, não fala sobre as pessoas às quais nos dirigimos. Enfrenta o problema na raiz, quer dizer: quem são, o que querem oferecer, o que querem ser e o que querem dar aqueles que “operam a caridade” na Igreja? É um passo importante para dar densidade e autonomia à teologia da caridade. Provavelmente, desse modo, contraria também a opinião de quem quer que as nossas ONGs tornem-se meros laboratórios políticos. Por isso, a ênfase é sobre aquilo que o Papa chama de “formação do coração” (n. 31 a).
O que ele quer dizer com “formação do coração”?
Se em quem opera não há uma – digamos – sensibilidade da pessoa, não se alcança o outro. Quer dizer: não fornecemos, antes de tudo, serviços técnicos, nós encontramos pessoas a quem devemos oferecer a possibilidade de experimentar o que o Papa define como a nossa “riqueza de humanidade”. Então, quando temos a humildade de reconhecer que a tarefa é maior do que as nossas forças, nos libertamos do proselitismo, da ideologia e não caímos na pretensão de resolver todos os problemas.
Em suma, é como se a encíclica oferecesse uma direção clara, uma bússola aos católicos que desenvolvem obras de caridade.
Melhor, recoloca a atividade da caritativa dentro da Revelação. Quer dizer: muitas vezes passa-se a ideia de que todos podem fazer caridade – e, sob certos aspectos, isso também é verdade –; então podemos muito bem excluir Deus dos acontecimentos dentro da nossa atividade.
No fundo, é o raciocínio de quem tentou ler a encíclica como duas partes separadas: de um lado a teologia, na primeira parte, e, depois, a prática, na segunda...
Raciocinar assim significa homologar-se ao mundo. Ao contrário, o próprio Papa escreve que as duas partes são “conexas entre si” (n. 1). Vê a caridade à luz da Revelação, à luz do fato de que Deus se manifesta como amor. E, portanto, também a atividade caritativa é reconduzida a esta fonte que é a Revelação, que é o próprio Deus que se manifesta como amor e torna o homem, por sua vez, capaz de amar. Então, não é um moralismo: o amor ao próximo é o fruto, a consequência direta do amor divino, que reconcilia a si o homem pecador. Todavia, para defini-lo, a encíclica – contra uma certa interpretação da tradição cristã – assume um conceito primordial da experiência humana, o eros, afirmando que o amor de Deus “pode ser qualificado sem dúvida como eros” (n. 9). Há, então, uma visão positiva das forças naturais que habitam a pessoa, embora devam ser sempre purificadas. A questão de Deus permanece central. A primeira parte reserva também a quem acredita conhecê-lo, surpresas e atrativos comoventes.
Paulo VI, discursando na ONU em 1965, definiu os cristãos como “especialistas em humanidade”...
Devemos redescobrir o que isso significa. A encíclica faz uma distinção entre justiça e caridade, que é fundamental para a nossa ação no mundo também nos organismos internacionais. É claro que alguns organismos, alguns sujeitos da Igreja defendem instâncias de justiça, mas isso não esgota a dimensão diaconal que Cristo nos confiou.
Quer dizer que a justiça não basta?
A caridade exige a justiça, mas a supera. O Cardeal Roger Etchegaray, no congresso sobre a caridade, onde foi apresentada a encíclica, fez este exemplo: “O leproso tem o direito de ser cuidado mas não tem direito ao beijo de São Francisco; no entanto, precisa muito dele”. Os cuidados são a justiça, mas o beijo é algo a mais de que todo homem tem necessidade, é a caridade. Nós somos especialistas em humanidade, aqui, na África ou nas Nações Unidas, porque vivemos assim. Não porque uma lei o diz ou um protocolo o prevê. Na encíclica, o Papa diz que “não há qualquer ordenamento estatal justo que possa tornar supérfluo o serviço do amor. Quem quer desfazer-se do amor, prepara-se para se desfazer do homem enquanto homem” (n. 28 b).
Então, segundo o senhor, qual é a contribuição específica que a Igreja, hoje, pode dar inclusive em um contexto como a ONU?
Afirmar, como a encíclica, que não é possível construir uma sociedade humana, defender os direitos de todos, se não há um fundamento dentro de tudo isso que se chama Deus, se não tivermos o olhar aberto para Deus. Esse é o verdadeiro desafio. E há uma enorme importância cultural. Vivemos em um mundo secularizado e em uma ideologia constantemente tentada a esquecer Deus, como demonstra a luta do Tratado de Lisboa e a tentativa de dar um fundamento institucional à União Europeia. Devemos, dessa história, tirar a lição daquilo que o teólogo francês De Lubac chama “o drama do humanismo ateu”. É somente do encontro entre Deus e o homem que nasce um determinado tipo de relacionamento entre um homem e outro, uma concepção do homem realmente diferente.
João Paulo II, na ONU, disse: “Estou aqui diante dos senhores como uma testemunha da dignidade do homem”. Passaram-se treze anos, mas o ponto não muda.
O coração é o mesmo de sempre. A Igreja defende a dignidade do homem, está a serviço do homem para que ele reconheça sua relação com Deus. No final da Assembleia plenária de fevereiro fomos recebidos pelo Papa, que nos lembrou que o operador da caridade também é testemunha da vida, do amor e de Deus. “Nós podemos praticar o amor – disse o Papa – porque fomos criados à imagem e semelhança divina para viver o amor e, deste modo, fazer entrar a luz de Deus no mundo”.
Credits /
© Sociedade Litterae Communionis Av. Nª Sra de Copacabana 420, Sbl 208, Copacabana, Rio de Janeiro - RJ
© Fraternità di Comunione e Liberazione para os textos de Luigi Giussani e Julián Carrón