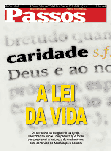Passos N.93, Maio 2008
CULTURA / PINTURA - BILL CONGDON
“Nada termina, tudo começa”
por Rodolfo Balzarotti
Dez anos depois do desaparecimento do grande pintor americano, pedimos ao crítico de arte que compartilhou com ele a vida e o trabalho para contar a história de uma amizade nascida nos primeiros anos da década de 1960. Que continuou entrelaçando a arte com a verdade. Para “transpor a crosta da aparência”
Tudo começou em Milão, numa tarde de fevereiro de 1962. Naquela época, eu era estudante do segundo ano colegial. Tímido e introvertido como muitos de meus colegas, convictamente ateu, anticlerical com um certo exibicionismo, endurecido em um positivismo de ferro, mas apaixonado pela pintura (rabiscava e pincelava no tempo livre e, frequentemente, mergulhava nas monografias sobre arte). Algumas vezes me aproximei dos jovens que estudavam no meu colégio, que faziam parte de GS (Gioventù Studentesca, primeiro núcleo do movimento de CL; nde). Eu até compareci a um dos encontros que eles promoviam. Pareciam-me um pouco malucos. Mas, também eram desarmantes (“você é feliz?”!!). Numa manhã de fevereiro, na escola, me disseram: “Hoje, um famoso pintor americano vem falar sobre a sua conversão. Talvez lhe interesse, você não entende de arte?”. A isca fora colocada no anzol.
A realidade é sinal
À tarde, eu estava no Salão Nobre da Universidade Católica lotada de estudantes. Ao pódio, subiu um padre com ar animado e voz rouca e forte chamando a atenção sobre a importância do encontro: ouviremos um famoso pintor americano sobre o qual Jacques Maritain e Thomas Merton também escreveram a respeito (e quem o conhece?, disse a mim mesmo). Então, William Congdon, um americano por volta dos 50 anos, apareceu. Os cabelos brancos davam-lhe um ar venerável, pelo menos aos nossos olhos de jovens estudantes. Ele começou a ler seu discurso com voz aparentemente monótona, com um típico sotaque anglo-saxônico. Que, porém, aos poucos, tornou-se um canto, no sentido épico do termo. Não era um discurso, era uma narração: sobre a guerra e campos de extermínio, sobre metrópoles escuras em cujo magma afunda um disco solar vermelho sangue; sobre deserto e ilhas de morte, sobre abutres e luas hipnóticas no rosto da noite. Em suma, imaginem. Não me lembro de quase nada, mas acho que fiquei hipnotizado desde a primeira frase. Aquela narração dava-me a razão, a razão da minha confusa e um pouco autista incursão pela arte: a realidade é realidade, torna-se realidade, quando é sinal. E assim, dei um passo decisivo na compreensão da vida, de mim mesmo, do meu destino. Com a cabeça de hoje, digamos que aquele testemunho me “abriu a razão” e me introduziu à fé. Tanto que saí daquela sala analisando tudo, entre a perturbação alegre dos “colegiais do Movimento”.
O “grupo artístico”
Quando entrei para o grupo dos colegiais, descobri que no caldeirão de iniciativas e de grupos, existia também um “grupo artístico”, uma vez que todos os interesses devem ser valorizados à luz do encontro com Cristo. Conheci Sante Bagnoli, a alma e a mente do grupo, que compartilhava comigo a paixão pela arte, sobretudo pela arte contemporânea. Para nós, era um belo desafio: mesmo distante da Igreja, ela não deixa de ser testemunha do homem e de seu senso religioso. Surgiram, daí, as discussões e os encontros sobre Matisse e a capela de Vence, sobre a igreja de Le Corbusier em Ronchamp, sobre o filme O Evangelho Segundo Mateus de Pasolini, e por aí afora. Mas atrás e junto com Sante estava Paolo Mangini, um distinto senhor de Genova (uma dúzia de anos mais velho que nós, portanto, um “adulto”): foi ele que, na pequena cidade de Assis, apresentou a Congdon o Movimento de Dom Giussani. Foi ele que, de acordo com este último, decidiu firmar as bases de uma forma adulta deste Movimento que, por volta da metade dos anos 60, ainda era formado em grande parte por estudantes colegiais. E foi ele quem percebeu em Sante o talento e a audácia de lançar no mar aberto da cultura do mundo as intuições nascidas dentro da experiência de GS.
A lua de Subiaco
Eu invejava muito a intimidade que Sante tinha com Bill – o apelido de Congdon – e o observava, de longe, sem ousar me aproximar muito, durante os três dias de retiro em Varigotti, sempre rodeado por um grupo de colegiais, maravilhados pelo fato deste “ancião” estrangeiro, com um rico passado de grande artista, estar ali com eles, sentado como um aluno, tomando notas durante as colocações de Dom Giussani.
Porém, depois de alguns anos tive a oportunidade de acompanhar um amigo a Subiaco, à ermida do beato Lorenzo, encravada nas rochas que se erguem no vale de Aniene. Ali, Paolo criou um estúdio para Bill e uma hospedaria onde pequenos grupos do Movimento podiam passar períodos de retiro ou de férias. Aqui aconteceram também os retiros do que começava a chamar-se “Grupo Adulto”, futuro Memores Domini. À noite, antes de ir dormir, depois da récita das Completas, admiravam juntos a magnífica lua que surgia no vale, enquanto Bill falava sobre ela: a estava pintando; disse que era um de seus melhores períodos de criação depois de anos de crise. De tempos em tempos, Sante ia ao estúdio para ver o quadro recém terminado. Para mim, era como se fosse Moisés que ia ao Sinai. Até que um dia Paolo, que tinha percebido meu interesse, sugeriu que eu também fosse com Sante ver o novo “filho” (como Congdon chamava seus quadros). Bill sempre repetiu que não era ele quem fazia o quadro: “É o quadro que me faz”. Dizia que o quadro é um acontecimento, e que também deve ser assim para o observador. E, sobretudo, que o quadro não é “bonito” ou “feio”, mas “é” ou “não é”. Em suma, é uma questão de verdade, não de estética. Trata-se da verdade, da totalidade com a qual o pintor olhou para as coisas, para a realidade. Para estar diante de um quadro é preciso libertar-se de preconceitos e de esquemas intelectualistas, sobretudo de qualquer mundanismo. Requer silêncio, pobreza.
Pungente auto-humor
Superada a timidez do início, descobri que Bill era uma pessoa de extraordinária simplicidade e de um humor pungente, sobretudo auto-humor (“minha casa e de Winston Churchill”, dizia todas as vezes que passava na frente de um toalete). Vivia como um solitário, mas frequentemente estava colado no rádio (sempre na BBC) escutando as notícias do mundo: não havia drama ou tragédia que não sentisse como sua. E sobre a qual não sentisse, de algum modo, a responsabilidade. Mas não no sentido moralista: diante do mal é preciso simplesmente afirmar o bem do modo Deus lhe concede fazê-lo; no seu caso, pintando, isto é, reafirmando, como sempre dizia, “a positividade do ser”.
Com o tempo, também conheci suas fraquezas, suas fragilidades, suas obsessões e manias, das quais era tão consciente a ponto de chamar-se sempre de “o pobre eu”. E tudo isso era vencido por desarmante certeza de que cada coisa é Cristo, que realmente a realidade é Cristo, que Cristo é inelutável, quer dizer, é o Destino. “Nada termina, tudo começa”, disse certa vez a um primo que chorava pela morte da irmã, querida a ambos. E seus olhos claros tinham uma estranha intensidade que parecia realmente transpor a crosta da aparência. Foi assim que tudo realmente começou, depois daquele dia 15 de abril de 1998, quando, ao entrarmos em seu estúdio, vimo-nos diante de seu último quadro, recém terminado, ainda sobre o cavalete.
Credits /
© Sociedade Litterae Communionis Av. Nª Sra de Copacabana 420, Sbl 208, Copacabana, Rio de Janeiro - RJ
© Fraternità di Comunione e Liberazione para os textos de Luigi Giussani e Julián Carrón