OS FATOS
“Se Cristo não tivesse ressuscitado...”
por Paola Ronconi e Alessandra Stoppa24/04/2012 - Linda, que conheceu Cristina e não quer mais se prostituir. E uma mulher que vive ao lado do marido que tem Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). Histórias de vidas “renovadas"
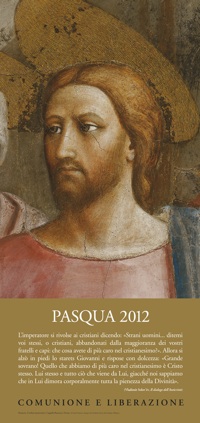
A noite em que vi as estrelas
Uma noite de quarta-feira, como tantas outras. Cristina está voltando para casa de carro, depois da Escola de Comunidade. De repente, os faróis iluminam uma mulher no meio da rua. Freia: “Que diabos está fazendo?!”. Graças a Deus não aconteceu nada. É uma negra, muito provavelmente uma prostituta. Não é o modo de se vestir que faz Cristina pensar isso, mas a região e as “colegas” que estão nas proximidades.
Ela pede carona para um bairro próximo. Cristina decide levá-la. A mulher se chama Linda, é nigeriana. Conta um pouco de si, da vida que leva. Cristina estava certa. Deixa-a terminar, faz um minuto de silêncio e depois diz: “Você nunca ficou com raiva de Deus?”. A outra explode em uma gargalhada: “mas, se é Ele que me protege! Por exemplo, pedi que Ele me enviasse alguém e você chegou. Só tenho que agradecer!”. Quando chegaram ao destino, ela desce. Cristina lhe dá seu número de celular: “Me ligue quando quiser”. “Quem sabe se a verei novamente...”, pensa, quando Linda fecha a porta atrás de si.
No dia seguinte, Cristina conta tudo à sua amiga Rita que fica pálida: com ela também tinha acontecido a mesma coisa, talvez seja a mesma pessoa. “Vamos procurá-la”, dizem. Assim, partem junto com o amigo Francesco, levando um violão e um ramalhete de flores. Perguntam a todos os nigerianos daquela região, mas nada, ninguém parece conhecê-la. Desistem, e decidem dar as flores e a música à primeira “senhorita” que encontram. Deparam-se com Ros. Ela não entende o que querem, mas pouco depois está com um maço de mimosas na mão escutando A Noite em que vi as estrelas, de Claudio Chieffo: “...a noite em que vi as estrelas/ não queria mais dormir,/ queria ir lá no alto para ver.../ e para entender...”.
A história parecia terminar aqui. Mas Linda aparece. Ros deve ter contado a ela sobre a estranha noite: “Quando nos vemos?”, pergunta a Cristina. Dito e feito: na noite seguinte fazem um jantar. Depois, começam os cantos e Linda também canta uma canção de sua terra, que diz: “Deus é bom. Enviou Seu Filho, que morreu pelo meu pecado e pelo seu. Nossa dívida foi resgatada. Cantemos com alegria”. A hora de ir embora chega logo, o trabalho a espera. Acompanham-na até uma esquina e se despedem. Passam-se poucos minutos e o telefone de Rita toca. É Linda. Pede para que a acompanhe até em casa, está com frio. Rita faz o retorno e volta para buscá-la. Quando estrou no carro, Linda olhou para ela: “Não é por causa do frio. Depois de uma noite tão bonita, não posso mais voltar ao meu trabalho. Me ajude a encontrar outro.
“Você gosta mais do seu marido?”
O médico olha para ele: “Não faça planos a longo prazo. Não faça empréstimos de dez anos. E se quiser correr, faça-o hoje. Porque pode ser que amanhã você não possa mais”. Foi assim que Ugo soube que tinha ELA. Silvia estava ali, sentada ao lado do marido com uma barriga de seis meses. Esperava a segunda filha, Letizia, que hoje tem a mesma idade da doença: dois anos e meio. Quando nasceu, saiu do hospital nos braços do pai sentado numa cadeira de rodas empurrada pela mãe: “Parecia que era ele quem tinha dado à luz!”. A risada de Silvia é límpida e é um raio de luz. Faz-nos ver tudo melhor: a prova que vivem em cada instante do dia e a graça que os visita. O diagnóstico foi dado em 2009, depois de quatro anos de casamento. Ugo tinha quarenta e quatro anos, e começou a sentir um cansaço exagerado. Depois, começou a tropeçar. É engenheiro e trabalhava em uma empresa de componentes para eletrodomésticos. “E continuou a trabalhar cheio de coragem, como se ele não tivesse nada”, diz Silvia. Mas, a cada mês, algo paralisava. Primeiro, as pernas, depois, o diafragma, depois a língua. E a cada golpe ele precisava se render à necessidade de um auxílio a mais: a cadeira de rodas, depois o ventilador para respirar, depois o tubo PEG, uma espécie de sonda permanente que o alimenta. E agora, o comunicador, porque Ugo mexe apenas os olhos. Olha as letras e o computador forma as palavras. Uma letra por vez, lentamente, em silêncio. E Silvia espera, todo o tempo necessário. Mesmo que seja apenas para um alô.
“Cada etapa, cada piora, significou uma escolha, e por isso grandes discussões entre nós. Ele não aceitava”. E você? “Fiz o que faz uma esposa: fiquei ao seu lado para fazê-lo raciocinar. Para tentar escolher juntos o bem”. Os músculos de Ugo são saudáveis, quer dizer, ele sente tudo, a dor e as carícias. Apenas não pode controlá-los. Não pode abraçar os filhos, e seu rosto perdeu a expressividade. “Isso também é uma dor”, diz Silvia: “Não dá para saber se está rindo ou se está irritado. Mas, geralmente, está irritado...”, ri. Ela está aprendendo a amar essa irritação. “Precisou aprender tudo. Antes de mais nada, a pedir ajuda. Como ele, que precisou aceitar ser dependente. E ver que a vida continua acontecendo em volta como antes sem ser possível participar como gostaria”. Mas a vida que acontece em sua volta não é exatamente como antes. É muito mais. “Explodiu”. Nos últimos dois anos, passaram por esta casa pelo menos duzentos jovens, em jantares de doze a cada vez. E os amigos, sem trégua. “Para nos ajudar em tudo. É verdade que eu aprendi a pedir, mas a coisa inacreditável foi a resposta. Primeiramente, da comunidade de Dergano, que esteve aqui todos os dias”. Vêm, inclusive, classes inteiras de catecismo trazidas pelo padre para verem o que é Comunhão para um doente: os meninos sentam no chão e ficam um longo tempo parados, em silêncio. Depois perguntam: “Você gosta mais do seu marido?”.
Quando Silvia fala dele, parece falar de “uma obra”. E como quem leva adiante uma grande obra, pede orações. É do que mais precisa. “De manhã, acordo cheia de certeza, porque sei que tem alguém rezando por mim. Essa é a maior companhia: desencadeou-se, realmente se desencadeou, uma corrente de orações impressionante. Há uma quantidade de orações por nós que nos sustenta fisicamente no cansaço cotidiano, que não passa, ao contrário, é cada vez maior. Eu aprendi esta abertura com Ugo, que é um homem de grande fé”. E ontem à noite, foi ele quem quis que a Escola de Comunidade fosse na casa deles, “com uma pizzada”, mandou dizer pelo computador. “Sempre está disponível, dentro de todo o sofrimento que carrega”, continua Silvia. “De resto, quando ouve quem vem aqui dizer: “Ugo, eu preciso ver você e ver como Silva olha para você para aprender a amar minha mulher”... Quando ouve isso, entende que carrega algo de grande e não pode negá-lo”. Disse que entendeu que é verdade que o Senhor não pede nada além do que podemos carregar. “Mas também nada menos. É preciso aprender a dar tudo. E eu tenho uma grande graça, porque amo Ugo exatamente como homem, porque ele existe, porque foi-me dado. Assim como meus filhos. Mas, se essa prova não fosse acompanhada como é, eu não poderia viver assim. Se Cristo não tivesse ressuscitado, se não estivesse vivo hoje, tudo aquilo que aconteceu nos últimos dois anos e meio nesta casa, não seria possível”.
Aquela hora que sustenta as outras vinte e três
Canto, dança, bordado, pintura. São as últimas atividades que se esperaria encontrar em um bairro brasileiro, na periferia de São Paulo. Porém, este é exatamente o modo com que Cleuza Ramos tenta, há anos, “tirar a favela da cabeça de quem a vive”. Ajudando as pessoas a ter uma casa, mas sobretudo a reconquistar a dignidade. Como? Através da beleza, que principalmente para uma mulher, quer dizer cuidar do próprio corpo, dos cabelos, das roupas. Poder exprimir-se através da música, do canto. Ou da pintura. Foi exatamente um desses cursos, em um dos locais comuns do bairro, que Mariella (professora toscana) conheceu, há alguns meses, acompanhada por Cleuza: “Entro no salão”, conta, “e vejo uma dúzia de mulheres pintando. É evidente que são muito pobres. Dou uma olhada nas telas. São muito bonitas, mas uma, em particular, chama a minha atenção. Aproximo-me: a beleza do quadro destoa do contexto. ‘Peça para que ela lhe conte a sua história’, me diz Cleuza”. Mariella senta-se com discrição ao lado da mulher. Tem cinquenta anos, mas parece ter muito mais. Sempre teve uma vida difícil: o marido é um homem violento. Pensou em deixá-lo muitas vezes, mas não o fez por causa dos filhos e, depois, pela possibilidade de ter uma casa. Já é casada há 36 anos. Algumas vezes, foi realmente duro. Os encontros com os trabalhadores é uma grande ajuda, mas foi a proposta que Cleuza lhe fez, que mudou tudo: “Venha pintar sempre que puder”.
Mariella – nos conta – escuta, mas parece perplexa: “Quando vi que na casa dos Memores Domini cada um dedica tempo ao silêncio”, explica Cleuza, “entendi que em um momento difícil, a pessoa precisa de um tempo para si: uma hora basta para sustentar as outras 23 horas do dia. Ela precisava de um lugar assim”.
“Para pintar, precisei olhar o que estava em minha volta”, continua a contar a mulher. “E percebi que há coisas belíssimas. Antes, eu só via a vida na minha casa. Quando vi que podia pintar, entendi que eu também sou uma coisa belíssima”.
A mudança aconteceu aí: “A violência de meu marido não me atingia mais como antes. Deixei de ser as pancadas que levava”.
Um dia, levou para casa uma de suas telas e a pendurou na parede. “Onde você comprou este quadro?”, perguntou o marido. “Eu o fiz”, respondeu. Desde aquela noite, seu marido nunca mais levantou a mão para ela. “Me olhou no rosto pela primeira vez”.
Outros quadros foram pendurados naquela casa. E as paredes não são mais sem reboco. São brancas.
Outras notícias
- 29/05/2012 - A Gaiola das Liberdades - por Suzanne Tanzi
- 21/05/2012 - “Pai, me garanta que valeu a pena vir ao mundo” - por Paola Ronconi
- 03/05/2012 - Uma percepção do humano que ultrapassa limites - por Ana Luiza Mahlmeister
- 03/05/2012 - Temos tanta estrada a percorrer - por Julián Carrón
- 11/04/2012 - “Minha filha me obriga a dizer que não sei” - por Alessandra Stoppa
- 03/04/2012 - "Vinde e Vede" - Lydia, de Valencia
- 20/03/2012 - Uma razão para reviver, depois da guerra - por Alessandra Stoppa
- 15/03/2012 - A descoberta do kizuna - por Matteo Lessi
- 07/03/2012 - Por que a vitória de Putin vale como uma derrota? - por Giovanna Parravicini
- 28/02/2012 - Os riscos aumentam mas, em Dadaab, a vida continua - por Victoria Martinengo
Credits /
© Sociedade Litterae Communionis Av. Nª Sra de Copacabana 420, Sbl 208, Copacabana, Rio de Janeiro - RJ
© Fraternità di Comunione e Liberazione para os textos de Luigi Giussani e Julián Carrón





